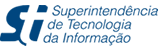Letramento racial como prática institucional: entrevista com o pesquisador Bruno de Castro
Data da publicação: 25 de novembro de 2025 Categoria: Sem categoria Como parte das ações do Novembro Negro Procult 2025, a Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Ceará realizou uma entrevista com Bruno de Castro, jornalista, doutorando em Comunicação pela UFC e pesquisador das relações entre comunicação e raça. Ganhador do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça (2025), na categoria artigo, e do Prêmio Lélia Gonzalez (2024), pela dissertação sobre mídias negras no jornalismo brasileiro, Bruno integra o grupo de estudos Praxijor e foi um dos primeiros estudantes cotistas negros do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFC. Atua também como consultor em letramento racial, impacto social e diversidade, assessorando instituições públicas e privadas em processos formativos e estratégias antirracistas.
Como parte das ações do Novembro Negro Procult 2025, a Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Ceará realizou uma entrevista com Bruno de Castro, jornalista, doutorando em Comunicação pela UFC e pesquisador das relações entre comunicação e raça. Ganhador do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça (2025), na categoria artigo, e do Prêmio Lélia Gonzalez (2024), pela dissertação sobre mídias negras no jornalismo brasileiro, Bruno integra o grupo de estudos Praxijor e foi um dos primeiros estudantes cotistas negros do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFC. Atua também como consultor em letramento racial, impacto social e diversidade, assessorando instituições públicas e privadas em processos formativos e estratégias antirracistas.
A conversa, conduzida por Vitória Oliveira, integra este guia como conteúdo formativo sobre reconhecimento racial, racismo estrutural e o papel da cultura na construção de uma sociedade antirracista. Vitória é doutoranda e mestra em Sociologia pela UFC.
Bruno Castro. Foto: Zé Rosa.
Vitória: O que significa, na prática, reconhecer a própria identidade racial?
Bruno:Primeiro, é superar um grande desafio de apagamento. A gente vive num país que nega a existência do principal povo que o compõe, que é o povo negro. Então, quando a gente tem condições de olhar para a nossa própria história, enquanto coletividade, enquanto país, e a nossa história individual, e a gente consegue compreender se é branco, preto, pardo, indígena ou amarelo, utilizando as categorias do IBGE, passa a compreender de que lugar se fala socialmente.
Se eu sou uma pessoa branca, vou acessar lugares e ter oportunidades diferentes de uma pessoa negra, assim como será diferente para uma pessoa indígena ou amarela. Ninguém parte do mesmo lugar social; todos nós partimos de lugares sociais diferentes. Eu, como homem negro, parto de um lugar; você, como mulher, de outro; pessoas indígenas partem de outro. Isso influencia para onde a gente vai socialmente, qual qualidade de vida vai ter, quais serviços vai acessar e qual rede de apoio vai conseguir acionar diante de alguma situação que precise enfrentar.
Isso não se dá por acaso, não é fruto de mérito ou de iluminação individual: se dá por uma conjuntura histórico-social. Quando eu olho para a minha realidade e compreendo que sou um homem negro, gay e de periferia, eu entendo que vou enfrentar muitas dificuldades para ser o que quero ser — um doutor em Comunicação, professor universitário daqui a alguns anos.
Então eu sei que vou enfrentar barreiras, encontrar pessoas que duvidam da minha capacidade e questionam os conceitos que apresento, me enfrentando com muito mais violência do que enfrentariam uma pessoa branca. Porque a pessoa branca detém esse imaginário de dominar conceitos e técnicas, enquanto o imaginário me coloca no lugar do trabalho braçal, onde a população negra foi historicamente colocada.
Se tenho condições de enxergar isso, de fazer uma avaliação e colocar uma lupa sobre a minha história e a história do país, consigo saber de onde parto, quais são as relações que estabeleço como cidadão e quais são as consequências disso.
Vitória: Por que tantas pessoas têm dificuldade em se autodeclarar pretas ou pardas num país majoritariamente negro?
Bruno: Existe um conflito aí. A gente tem um país em que a maioria se declara preta ou parda, se declara negra, e ao mesmo tempo temos muita gente que não sabe o que é. Por que acontece isso? Quando olhamos para a nossa formação social, percebemos que o Brasil, do ponto de vista de Estado, é um país que não discute suas feridas. E o processo de escravização dos povos negros e indígenas é uma ferida aberta até hoje. Tanto que, quando falamos sobre reparação, política afirmativa ou cota racial, isso ainda gera um incômodo muito grande.
Há quem diga que “cota é privilégio” ou que “a vaga tem que ser minha”, quando, na verdade, a vaga é pública. Essa confusão existe porque o país nunca discutiu de forma honesta essa ferida histórica que é a escravização.
Além disso, também não discutimos questões raciais dentro de casa. Com nossos pais e irmãos, raramente falamos sobre isso. No Ceará, é comum ouvir: “você não é negro, é moreno”, como se afirmar-se negro fosse algo ruim. Historicamente, foi construído o imaginário de que ser negro é negativo, algo associado à pobreza, à marginalização, à ignorância e à sexualização. Esses signos empurram a população negra para um lugar, no nosso imaginário enquanto povo, que ninguém quer ocupar.
As pessoas aspiram aos lugares ocupados por pessoas brancas, vistas como bonitas, inteligentes e bem-sucedidas — as que aparecem na televisão, nas revistas, no Congresso Nacional, na Presidência. Aprendemos que o sucesso é branco.
Nas escolas, tampouco há esse debate. A Lei 10.639, que obriga o ensino da cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos educacionais, continua ignorada. Se tivéssemos desde a base escolar essa discussão, do que honestamente são os povos negros, do que honestamente foram os povos negros em termos de formação do Brasil, teríamos uma outra concepção do que é negritude, do que é ser indígena ou branco. Porque ser branco é ter uma raça. Ter uma raça não é algo específico de pessoas negras ou de pessoas indígenas. Então, tudo isso coopera para que muitas pessoas se olhem no espelho e não se enxerguem, inclusive pessoas negras de pele escura que dizem “eu não sou preto, eu sou pardo”; ou pessoas pardas que se olham no espelho e dizem “eu não sou pardo, eu sou branco”. É uma confusão que nasce da falta de debate honesto e da representação equivocada das pessoas negras nos livros, nas novelas e na mídia.
Os povos africanos são retratados como se tivessem ficado a espera da colonização, o que é uma distorção completa: eram reinos imensos e impérios complexos. Eles não estavam de forma aleatória ocupando um espaço esperando o colonizador europeu como quem aguarda uma grande salvação. Mas é isso que nos contam: que eram povos associados à “preguiça”, que só serviam para o trabalho braçal. Quem é que deseja se identificar com negro, se ser negro é ser associado a tudo isso que não é bom? Essa narrativa reforça o racismo e faz com que muitos não queiram se identificar como negros.
O Brasil é majoritariamente pardo e preto — 55,6% da população —, mas a identidade parda, que corresponde a 45% da população, é a identidade que está nesse lugar, que nem tem a pele escura o suficiente para ser preto, nem tem a pele clara para ser branco, mas tem um componente racial que as coloca em lugar de que sofrem racismo e exclusão. Então existe essa dúvida, que é sanada com leitura, com vivência, conhecendo conceitos e pessoas de outras identidades, para entender qual o lugar social que eu ocupo, a partir do meu lugar e do meu contexto. Porque ser negro no Ceará não é o mesmo que ser negro na Bahia ou em São Paulo. Cada contexto regional influencia as vivências.
Por isso, o reconhecimento racial vem da convivência, do conhecimento e da observação da própria experiência social. Se eu sou seguido pelo segurança no supermercado ou abordado pela polícia enquanto meu amigo branco é dispensado, isso mostra que não sou lido socialmente como branco – ou eu não teria essa violência estrutural do racismo me acompanhando. Em um país como o Brasil, muito marcado por essa divisão racial em que os brancos estão no topo e os negros na base da sociedade, não dá para você ser uma pessoa negra, ou indígena, e não sofrer racismo. Se você sofre, você é uma pessoa não branca. “Bruno, mas eu não me sinto uma pessoa branca, porque a minha pele não é branca como a das pessoas do leste europeu” – exatamente porque nosso contexto social é profundamente marcado pela miscigenação e o nosso “branco” não é o mesmo dos Estados Unidos, ou do Leste Europeu, mas um branco miscigenado. O branco brasileiro também é racializado, mas dentro de um sistema de privilégios. Compreender isso é essencial para entender onde estamos e como a sociedade opera.
Vitória: Como criar, na universidade, espaços e estruturas em que servidores, artistas e estudantes se sintam confortáveis para falar sobre raça sem medo de errar?
Bruno: Um lugar só é confortável se eu me enxergo nele, eu preciso compreender que esse lugar me abraça enquanto sujeito, independente do que eu seja. Eu avalio que a criação das políticas de cotas e das ações afirmativas já cumpriu um papel fundamental ao romper com a ideia de que a universidade é um espaço exclusivamente branco. Até os anos 2000, apenas 2% dos estudantes do ensino superior eram negros. As cotas mudaram isso. Estudantes pretos e pardos chegaram com muita força ao ambiente universitário, e isso empurra a Universidade para um novo lugar de produção de conhecimento. Os estudantes negros passaram a reivindicar a leitura de outros autores, a realização de outras pesquisas. Eles vão tensionar o ambiente para que outros olhares sejam contemplados.
Não aceitamos mais – e me coloco nesse lugar, como cotista e como pessoa negra – um modelo de produção centrado apenas no olhar do homem branco norte-americano ou europeu. Há intelectuais importantes no sul global, na América Latina e no continente africano que há muito tempo produzem pensamento crítico, inclusive em marcos anteriores aos chamados autores clássicos. Temos autores africanos falando sobre temas centrais antes dos clássicos europeus abordarem os mesmos assuntos, mas a gente só acessa o que foi produzido nos Estados Unidos e na Europa. A universidade precisa refletir essa pluralidade e não pode restringir o conhecimento apenas à perspectiva do Norte Global, sobretudo de homens brancos, de meia idade, de classe média alta – a pobreza também fala, a negritude também fala, a mulheridade também fala, dentro de uma diversidade imensa! A Universidade precisa ser plural. As cotas já cumprem um papel muito importante, mas não são um fim em si mesmas. A gente precisa se ver nos currículos e nas práticas culturais. Quando a gente vai produzir um evento, não se pode pensar só no componente regional, de ter artistas cearenses. É preciso ter artistas cearenses diversos – brancos, negros, trans, travestis, não binárias – porque a vida também não se resume só a raça. A gente precisa também reconhecer os artistas que já deram uma contribuição imensa, as pessoas mais velhas, que são, como ensina a filosofia africana, verdadeiras bibliotecas. É necessário que tenhamos essas pessoas mais perto da gente. Ouvir essas pessoas, compreender o que elas estão propondo para a alteração daquele lugar. Dentro de sala de aula, além do acesso, é preciso garantir permanência. Não adianta encher a universidade de pessoas negras, indígenas e transexuais se elas não tiverem condições de ficar.
É preciso que a grade curricular, que as disciplinas, ofereçam a esses alunos perspectivas de mundo das quais essas pessoas também façam parte. Eu não posso, enquanto pessoa negra, ler apenas pessoas brancas ao longo da minha formação. Porque a pessoa branca, por mais aliada que seja, mais comprometida com o combate às desigualdades, ela nunca vai ter a mesma vivência de uma pessoa negra, ela nunca vai saber o que é o peso do racismo. Assim como eu, enquanto homem, nunca vou compreender o peso do machismo, porque eu me beneficio dele a partir do meu lugar de homem. Eu não poderei compreender como uma mulher se sente oprimida por estar em um lugar somente com homens. É preciso que tenha mais mulheres, para que essa mulher se sinta acolhida, respaldada em seu direito de falar, de existir. A política de cotas teve avanços importantes, mas é preciso seguir avançando, principalmente nos programas de pós-graduação, onde em alguns espaços persiste a percepção das políticas de cotas como privilégio, quando na verdade a reparação é uma obrigação do Estado. Se foi o Estado que empurrou pessoas negras e indígenas para os territórios marginalizados e para a falta de acesso à política pública, é esse mesmo Estado que tem a obrigação de promover a reparação de desigualdades históricas. A universidade, como instituição pública, deve representar a sociedade fora dos seus muros.
A gente precisa de melhores condições de permanência desses alunos nas pós-graduações. Não adianta só eu encher a UFC de pessoas pretas, pardas, indígenas, travestis e transexuais, e essas pessoas não encontrarem condições de permanecer. Eu, enquanto pessoa negra, nunca eu vou partir do mesmo lugar que uma pessoa transexual. Enquanto pessoa negra, eu ainda tenho uma expectativa de vida de até setenta anos, enquanto uma pessoa travesti ou transexual, independente da raça que ela tenha, terá a expectativa média de trinta e cinco anos. Logo, é evidente que ela precisa ser priorizada nas políticas de permanência na Universidade, porque isso vai implicar nas chances de ela ascender socialmente, porque o diploma dará acesso a um concurso público, a um cargo mais qualificado, a um salário melhor – ela não vai precisar se prostituir, se expor a perigos da violência nas ruas. Isso precisa ser considerado, esse debate precisa avançar e ser amadurecido dentro do ambiente universitário, onde ainda existe, na visão de algumas pessoas, a ideia de que ações afirmativas ou cotas são privilégios, de que estamos colocando um bando de pobres coitados dentro da Universidade. E definitivamente não é isso. Via de regra, o que acontece é termos as pessoas cotistas como as melhores da turma. Eu, enquanto aluno cotista no mestrado e no doutorado, aquela era a minha prioridade, e continua sendo. Eu preciso ser bom, porque o meu futuro só vai ter alguma garantia, se é que se pode falar em garantia de futuro, se eu tiver alguma qualificação. A nossa sociedade diz que, para eu ter ascensão social, eu preciso da educação. Os processos educacionais, na formação do Brasil, são centrais. E, para o povo negro, ou para o povo não branco, são mais determinantes ainda. Já diz o ditado: “se tendo a educação é difícil, sem ela é praticamente impossível. É preciso ampliar esses espaços de entrada e de permanência, mas as pessoas precisam se enxergar nesse lugar, a partir da produção de conhecimento, a partir da identidade visual da instituição, a partir dos gestores que estão na instituição. O alto escalão da instituição precisa ter pessoas pretas e pardas. A negritude não tem que estar só no chão de fábrica, varrendo o chão para branquitude passar.
Pessoas negras precisam estar como coordenadoras, como supervisoras, como reitoras da instituição, né? Então, tudo isso precisa fazer parte de uma grande política de inclusão, de dizer que a Universidade é um espaço de todos e não de alguns, como foi a vida toda.
Vitória: Você costuma explicar o racismo como sistema de poder, e não apenas como atitudes individuais. Como esse sistema aparece nas instituições públicas e culturais?
Bruno: O racismo é as duas coisas. A gente pode ter a manifestação do racismo em atos individuais. Quando alguém me chama de macaco, de preto ou de qualquer coisa que remeta à minha estética por eu ser uma pessoa negra, isso é um ato de racismo individual e precisa ser responsabilizado do ponto de vista criminal, porque racismo, no nosso país, é crime. Mas o racismo não se manifesta só dessa forma.
Não é só a pessoa me chamando de macaco, não é só a pessoa fazendo alguma piada sobre o meu cabelo ou me chamando de encardido. Não é só dessa forma. Quando nós temos políticas públicas que chegam para uns e não chegam para outros, e esses “uns” são brancos e esses “outros” são todos os não brancos, essa política é racista. Política pública é pública porque tem uma razão de existir: ela tem que ser para todas as pessoas.
E nesse rol de todas as pessoas também precisam estar incluídas as populações em situação de vulnerabilidade, que geralmente são populações negras, populações LGBTs, populações idosas, populações de idade mais reduzida, como crianças e adolescentes. Tudo isso precisa estar contemplado na política pública. O racismo impede que a política pública ou qualquer outra coisa que deveria ser coletiva chegue para todo mundo.
Quando o racismo incide, ele permite que isso chegue só para pessoas brancas. Em uma pandemia, para trazer um exemplo recente, quando o primeiro caso de Covid-19 do Brasil foi de uma empregada doméstica negra, isso diz muito sobre o nosso país.
Quando os indicadores comprovam que a maioria das vítimas dos óbitos estava em regiões periféricas e eram pessoas negras, isso diz muito sobre o nosso país. Por quê? Porque nas regiões periféricas o acesso à saúde é mais difícil, as famílias são maiores e as casas menores, então a facilidade de transmissão do vírus era imensa.
Enquanto em áreas de IDH mais alto, onde geralmente estão famílias brancas e mais ricas, as famílias são menores, as casas maiores, a transmissão é mais difícil e, mesmo que a pessoa pegue, ela desce e vai ao plano de saúde dela em um hospital de grande estrutura, conseguindo um aporte maior de atendimento. Então, isso é racismo.
Quando eu tenho um serviço público que não chega a todas as pessoas como deveria, e essas pessoas que não acessam esse serviço geralmente são pessoas negras, isso é racismo. É por isso que a gente fala, Vitória, que o racismo é estrutural. Ele não se dá só nas manifestações pessoais. Essa dimensão estrutural é o que torna o racismo tão difícil de combater.
O combate não se dá simplesmente com a adoção da cota, porque o racismo é uma questão cultural. A pessoa negra vai entrar na universidade ou numa empresa e lá vai encontrar uma pessoa branca que acha que ela, por ter entrado por cota, não tem tanto conhecimento assim. Não é uma boa médica, não é um bom jornalista, pelo fato de ter entrado por cota.
E, na prática, a gente vê que isso não é verdade. A imensa maioria — e isso não é opinião pessoal, embora também seja —, as pesquisas indicam que alunos beneficiados por programas sociais, via de regra, se esforçam mais. Eles têm as melhores notas, se envolvem mais nesses espaços.
Então, devolvem para a sociedade um serviço impecável. Mas o olhar que nós construímos é o de que essas pessoas têm uma qualidade profissional menor. Isso é racismo.
Eu entrar numa sala, identificar três pessoas, uma delas negra e duas brancas, e achar que essa pessoa negra jamais será a médica — só pode ser a enfermeira ou a moça dos serviços gerais — isso é racismo, e eu não precisei dizer que ela era “macaca” ou “encardida”. O meu olhar é racista quando eu olho para aquela pessoa e não enxergo nela uma capacidade. Eu vou enxergar uma deficiência, um problema; vou enxergar a falta de algo, e não a presença de algo. O racismo é sempre a falta.
Essa dimensão estrutural, institucional e coletiva do racismo coloca a gente diante de um desafio muito grande de enfrentamento, porque as políticas precisam atuar juntas.
Você não enfrenta o racismo só com cota, não enfrenta só com polícia. Não é assim. Tanto que as pesquisas e os estudiosos dizem que precisamos de amplas frentes: repressão, políticas afirmativas. Tudo isso vai moldando.
Bruno, isso significa que um dia a gente vai acabar com o racismo? Olha, acho difícil que eu veja isso. Sou um homem de 39, quase 40 anos, dificilmente viverei numa sociedade em que não vai existir racismo. Meus filhos, acredito que também não, meus netos também. Porque, infelizmente, o racismo não se manifesta sozinho. Ele está dentro de uma estrutura que envolve o nosso modelo de sociedade com o capital, com o dinheiro, com o lucro.
É por isso que os movimentos sociais nos alertam o tempo todo: não dá para combater o racismo e deixar o capitalismo de lado. Uma coisa leva à outra. Quem é que está na base do capitalismo? Quem está sendo explorado? Quem está no chão de fábrica? Quem está limpando o chão da empresa? Geralmente são pessoas negras, ganhando pouco, trabalhando muito. Eu ter pessoas negras no chão da fábrica e não ter pessoas negras no teto da fábrica, isso é racismo. Por que pessoas negras só podem estar embaixo?
Por que eu não posso ter um diretor negro? Um presidente negro? Essas formações nas instituições e na nossa vida social nos informam muita coisa. Quais são as pessoas com as quais eu me relaciono? Eu só me relaciono com pessoas brancas? Por quê? Isso diz o quê sobre mim? Eu já tive algum namorado negro? Alguma namorada negra? Eu me interesso por pessoas negras?
Ou, na minha visão, pessoas bonitas são apenas a loira europeia ou americana, ou o homem loiro dos olhos azuis da Suécia? Pessoas pretas não fazem parte desse imaginário? Pessoas pardas não fazem parte desse imaginário? Por quê?
O que me leva a subir minha timeline e todas as pessoas do meu Instagram serem brancas? Por que minha bolha é só de uma cor? Quando a gente tem uma bolha só de uma cor, vai enxergar o mundo só de uma cor. E esse mundo será sem graça, porque o mundo é super colorido. Se eu tenho a oportunidade de enxergar várias cores e várias possibilidades, por que vou enxergar só uma?
Então, o racismo é burro. Racismo é uma escolha burra de vida, porque você enxerga só uma coisa quando poderia enxergar várias.
Mas essa burrice exclui as pessoas, mata as pessoas. O racismo não é só uma piada. Essa piada que você faz vai influenciar na saúde mental daquela pessoa, disparar gatilhos que você não sabe onde vão dar. A pessoa pode tirar a própria vida por causa disso, ou pode ser morta por ser negra, como o George Floyd foi nos Estados Unidos, porque a polícia compreende que pessoas negras geralmente são bandidos. Não é à toa o ditado: “o preto parado é suspeito e o preto correndo é bandido”. No Brasil, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Isso é genocídio. A nossa população negra está sendo morta pelo simples fato de estar na periferia. Pessoas com guarda-chuva sendo confundidas com fuzis e mortas por isso. Pessoas confundidas com sequestradores sendo presas pela polícia e, semanas depois, quando soltas, comprova-se que não tinham envolvimento com nada.
Por que essas pessoas são sempre associadas a questões criminosas? Isso é racismo. Quando entendemos que só a pessoa negra é um problema e que a solução está na pessoa branca — no delegado, no juiz, no judiciário — isso é racismo se manifestando.
Não é só o xingamento. O xingamento é a violência mais imediata e dói de maneira instintiva, porque você reage imediatamente quando é chamado de macaco. Mas não é só isso que te exclui enquanto pessoa negra ou indígena. Há toda essa estrutura te dizendo que tu não pode entrar, ou que, quando tu entra, querem te colocar para fora: “não é tão bom assim”, “não tem o perfil”. Tudo isso é manifestação de racismo. Porque o que é o “perfil”? O que é o “tão bom assim”? Quando se avalia perfil, é o perfil da pessoa branca, formada em universidade dos Estados Unidos. Se for uma pessoa formada em outro lugar, com perfil socioeconômico ou racial diferente, já não é “tão boa assim”.
Isso é racismo. É uma estrutura. Quando falamos que o racismo é estrutural, não é só uma expressão bonita ou forte. É para compreender que ele opera de todas as formas: na vida afetiva, pessoal, familiar, com colegas de várias raças que podem cometer racismo comigo; no local de trabalho; na rua; no acesso ao serviço público.
O contexto disso tudo nos prova que, historicamente, pessoas negras sofrem com isso. Se pessoas negras sofrem com isso, se pessoas indígenas sofrem com isso, e pessoas brancas sofrem menos — não é que não sofram, mas sofrem menos — porque, mesmo pessoas brancas pobres que também enfrentam dificuldades de acesso, ainda têm mais acesso do que pessoas negras, por continuarem sendo brancas.
Se existe essa dificuldade por conta da questão racial, o racismo é o que está incidindo ali, não é outra coisa. Ele é reforçado por questões de classe, de gênero, de identidade de gênero, mas a base sempre será a questão racial. Nosso país é racializado, construído na lógica de que pessoas brancas estão no topo e pessoas negras na base. Se o país for estruturado nessa lógica, ele vai continuar nesta lógica. E, quando continuar nesta lógica, estará perpetuando o racismo.
Vitória: Quais são os exemplos mais frequentes de racismo cotidiano, inclusive dentro do espaço universitário?
Bruno: Olha, quando a gente olha para uma sala de aula e ainda enxerga uma maioria de alunos brancos em relação aos alunos negros, a gente precisa pensar, né?
Quando a gente olha para um corpo docente, ou seja, para o corpo de professores de determinado curso, e quase todos os professores ou todos os professores, como a gente tem em alguns casos, são brancos, a gente precisa pensar a respeito.
Quando eu olho para a disciplina, para o conteúdo programático da disciplina, e não tenho nenhum autor negro, quando não tenho nenhuma disciplina que trate de questões raciais ou de realidade brasileira, a gente precisa pensar a respeito, né?
Tudo isso são exemplos que podem parecer pequenos, mas que, no ambiente universitário, vão incidir na formação daquele aluno e, consequentemente, vão incidir no profissional que a gente entrega para o mercado de trabalho. Veja, eu sou jornalista. Eu não tive, na minha graduação, nenhuma disciplina que tratasse sobre questões raciais, de gênero, de classe. Tive uma disciplina genérica sobre sociologia brasileira, mas em momento nenhum me foi apresentada a problemática racial brasileira, que é a espinha dorsal para a gente compreender o Brasil. Eu não tenho como compreender o Brasil sem colocar a perspectiva racial no debate. E eu não tive isso na minha formação.
Então, imagine como é que nós colocamos, todo semestre, centenas de jornalistas no mercado e esses jornalistas não tiveram uma formação sobre raça, uma formação sobre gênero, uma formação sobre classe. Como essas pessoas vão fazer uma leitura de mundo, como elas vão construir reportagens, como vão fazer comentários durante os telejornais se elas não tiveram um embasamento para aquilo?
É claro que elas podem fazer, porque podem buscar esse embasamento por conta própria, que foi o que eu fiz, né? Quando eu percebi que existia uma lacuna, eu fui conhecer Djamila Ribeiro, Sueli Carneiro, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez. Nenhuma dessas pessoas me foi apresentada em nenhuma formação que eu tive. E eu tenho uma graduação, três especializações; eu vim conhecer essas pessoas no mestrado, com quase 40 anos.
Então, durante toda a minha formação acadêmica, me foi negada uma perspectiva negra sobre o meu país e eu sou uma pessoa preta. Por que eu não tenho direito a acessar essa perspectiva da formação do lugar onde eu vivo? Eu deveria ter tido acesso a intelectuais como Guerreiro Ramos, a intelectuais como Lélia Gonzalez, que, para mim, são os verdadeiros intérpretes do Brasil. Gilberto Freyre, para mim, não é um intérprete brasileiro. Tem toda a sua importância, assim como Fernando Henrique Cardoso também tem toda a sua importância, mas, para mim, que sou uma pessoa negra, a fala de Lélia Gonzalez é muito importante. O que Abdias do Nascimento nos propunha sobre quilombismo é muito importante, porque dialoga frontalmente com a nossa formação enquanto povo, sabe? A nossa brasilidade vem daí, do que essas pessoas negras estão propondo que a gente pense.
Beatriz Nascimento… a gente não fala sobre Beatriz Nascimento. Na comunicação, Beatriz tem uma contribuição imensa para os estudos de comunicação. A gente não fala sobre ela, Beatriz é apagada, né? Por que essas pessoas não constam nos estudos, nas dissertações, nos mestrados? Por óbvio, existe uma onda muito recente de recuperação dessas pessoas.
Lélia tem figurado muito, Frantz Fanon tem figurado muito, mas é muito pouco diante de tanto apagamento que a gente teve, né? Então, a gente precisa fazer com que essas pessoas cheguem a mais gente, ocupem mais espaços, estejam em mais conteúdos programáticos, condicionem a criação de mais disciplinas dentro de sala de aula.
Quando tudo isso não acontece, cada situação dessa que eu te dou é um exemplo de como o racismo se manifesta no nosso dia a dia e não permite que um ambiente universitário — para dar só o exemplo do ambiente universitário, porque a gente pode aplicar isso ao serviço público, ao ambiente corporativo, à nossa vida familiar — deixe de se aprimorar. O racismo, quando se instala, Vitória, impede que aquele ambiente se aprimore, sabe?
Porque ele vai colocar sobre aquele ambiente uma lupa de uma perspectiva só, quando a gente poderia ter várias outras. Eu posso enxergar o mesmo fenômeno social de vários lugares. Eu não preciso enxergar só daqui. E está tudo bem eu enxergar daqui, daqui, daqui, daqui. Por que eu tenho que enxergar só daqui? Quem disse que só pode ser assim?
O ambiente universitário ganha muito em ter uma diversidade de pessoas, como nós temos hoje. É indiscutivelmente muito diferente do que éramos há 25 anos atrás, quando a gente só tinha 2% de alunos negros no ensino superior. Mas a gente tem muito que avançar em termos de epistemologia, nas perspectivas que a gente apresenta para os alunos, nos autores que a gente apresenta para os alunos. Essa mudança de perfil precisa chegar ao corpo docente. Ainda não chegou. A quantidade de professores negros no ensino superior, sobretudo na pós-graduação, é irrisória no Brasil inteiro, com algumas oscilações, mas é irrisória.
Então, a gente precisa ter mais professores negros formando mais alunos negros e alunos não negros. Mas, se eu tenho uma sociedade em que quase 60% dela é preta ou parda, todos os espaços precisam ter essa representação. A universidade precisa ter 60% de pessoas pretas ou pardas, o Congresso Nacional precisa ter 60% de pessoas pretas ou pardas, as empresas precisam ter 60% de pessoas pretas ou pardas.
Eu não posso normalizar, naturalizar que pessoas brancas estejam em locais de poder, enquanto pessoas negras estão na subalternidade, estão em subempregos, ganhando menos, né? A gente se deparou, essa semana, com uma pesquisa que diz que pessoas negras, no mesmo cargo, com a mesma formação de uma pessoa branca, ganham 30% a menos pelo simples fato de serem pessoas negras. Não pode!
Se a formação é a mesma, se a função é a mesma, se o lugar é o mesmo, o que justifica uma pessoa negra ganhar 30% a menos, se não for uma questão racial? Sabe? Esse tipo de discrepância a gente tem que enfrentar.
Dentro do ambiente universitário, a gente também precisa compreender que esses espaços de supervisão, de liderança, de gestão, de chefia, de tomada de decisão precisam ser ocupados por pessoas negras também, e principalmente por pessoas negras politizadas, que tenham essa consciência de que mudanças precisam ser feitas. Porque a sociedade se transformou, as demandas da sociedade se transformaram, a visão do corpo discente, é outra hoje em relação à década de 80, à década de 90. Então, se as pessoas que fazem parte da universidade se transformaram, se as demandas são outras, a universidade precisa acompanhar isso. A gente não pode ter uma sociedade de 2025 com uma universidade de 1950, né? Não tem como. Essa assimetria não vai gerar bons frutos. Quando eu digo bons frutos, são bons debates, boas propostas, bons projetos. Claro que podem acontecer iniciativas incríveis, porque existem iniciativas individuais. Os professores que têm consciência, que têm uma formação política, que têm uma consciência política, que despertam para a importância da questão racial, levam isso para dentro de sala de aula, independente de isso estar no conteúdo programático. Mas ainda é muito pouco. A raça precisa estar na espinha dorsal da nossa formação, porque ela está na espinha dorsal da nossa formação enquanto povo.
Então, enquanto universidade, também precisa estar; enquanto serviço público, também precisa estar; enquanto família, precisa estar. A gente precisa discutir a questão racial dentro de casa, gente. A raça não está da porta de casa para fora, está dentro de casa. Se eu não entendo, dentro da minha casa, que eu sou uma bicha preta de periferia, que é o que eu sou, eu vou entender onde? Na violência da rua. Alguém vai dizer para mim que eu sou um viado, preto, de periferia.
Então, é muito melhor que eu ouça em casa, que eu tenha consciência em casa, que eu me forme dentro de casa, que eu me empodere dentro de casa, para a partir dali ir viver a minha vida social e enfrentar o que eu tenho que enfrentar. Não significa dizer que, porque eu me formei em casa, eu não vou sofrer racismo na rua, mas eu vou encarar de outra forma. Eu vou sofrer menos. Eu vou ter argumentos para contrapor. E, na imensa maioria das vezes, a gente não tem. Porque, quando diz que é negro em casa, a gente é ensinado a dizer que não é.
É quando entra a história do “moreno”, né? “Você não é negro, você é moreno, sua pele não é tão escura assim, você nem é tão negro assim, né? Mas a sua mãe, o seu avô…” Como se a questão racial fosse uma questão de ancestralidade. O fato do meu avô ser branco não vai me tornar uma pessoa branca. O fato do meu avô ser negro não necessariamente vai influenciar se eu vou ser uma pessoa negra.
Então, a gente precisa saber que esse debate também se coloca no ambiente universitário de maneira muito vertical. Ele não é um acessório. Raça não é um penduricalho. Raça é um elemento, um marcador social que define tudo, em todos os lugares, também dentro da universidade. É só a gente olhar, com todo respeito, para a Reitoria.
Quantos reitores negros a UFC teve? Quantos reitores negros o Brasil teve? A gente teve a primeira reitora negra de uma universidade um dia desses, gente, na Bahia. Literalmente um dia desses. Então, o que justifica isso? A falta de capacidade de pessoas negras de serem gestoras de um ambiente universitário, com um tanto de pessoas negras aí tentando, se capacitando, se formando? Ou é a falta de oportunidade, ou é a falta de espaço, ou é a gente compreender que esse lugar é mesmo de pessoas brancas e não de pessoas negras? Acho que a gente precisa tensionar com mais honestidade essas questões e compreender que algumas mudanças precisam ser feitas. O Brasil não é o Brasil de antigamente, da época da ditadura militar, que negava o racismo.
A gente tem a compreensão hoje de que o racismo existe, inclusive institucionalmente. O Brasil reconheceu, durante as discussões da Conferência de Durban, em 2000, que é um país racista. Institucionalmente, nós temos esse reconhecimento. Então, o que está faltando para a gente andar e mudar esses espaços? Aumentar a quantidade de pessoas negras nesses cargos, mas também mudar o ensino que é oferecido para essas pessoas. A gente precisa mudar isso.
Vitória: Como os produtos e ações culturais e artísticas podem colaborar para a construção de uma sociedade antirracista, Bruno?
Bruno: A arte, o jornalismo, a literatura, o cinema, todas essas formas de produzir símbolos, imaginários, influenciam na maneira como a gente enxerga o mundo, né? Veja: uma vida inteira eu achei que eu não podia escrever um livro. De onde eu tirei isso?
Todos os livros que eu lia eram de autores brancos, todos os personagens que estavam nos livros eram pessoas brancas ou eram pessoas brancas em situação de poder e pessoas negras em situação de subalternidade. Quando eu ligava a televisão, o mocinho era branco e o vilão era negro, era o bandido, o traficante, o assassino. Quando eu ia para o cinema, a mesma coisa. Então, a gente produz um imaginário a partir daí.
Eu costumo dizer que o racismo nasce primeiro na nossa cabeça e nas nossas palavras. Depois é que ele se materializa nos nossos atos, mas primeiro a gente pensa nele, depois a gente fala sobre ele, depois a gente pratica.
Então, se eu tenho um universo artístico que me oferece uma visão de que pessoas negras podem ser pessoas bem-sucedidas, podem ser escritores, podem ser médicos, podem ser empresários, podem ser cantores, podem ser atores, podem ser jornalistas, podem ser sociólogos, podem ser reitores de universidade, podem ser o que elas tiverem oportunidade e quiserem ser também.
Se eu tenho a arte me oferecendo isso, ela está contribuindo para a desconstrução de um imaginário que uma vida inteira foi feito pela perspectiva do contrário disso. Imagine: nós tivemos quase quatro séculos de escravização desse país.
Durante quase quatro séculos o Estado – e, quando eu digo o Estado, a arte entra nesse lugar também, porque os jornais também faziam isso, as peças de teatro também faziam isso, a intelectualidade do Brasil, a literatura que era branca, também fazia isso – nos disse que pessoas negras não eram pessoas.
E só quem tinha esse status de humanidade eram pessoas brancas, que podiam comprar os escravizados, podiam vender os escravizados. Pessoas negras, indígenas, mas sobretudo negras, eram mercadorias. Então, a construção desse imaginário durante 400 anos… a desconstrução desse imaginário não vai se dar da noite para o dia.
A gente teve quase 400 anos de construção, essa desconstrução vai levar um tempo ainda.
E, nesse processo, a arte, o jornalismo, a literatura, o cinema exercem um papel fundamental de mostrar para nós, mas sobretudo para as gerações que vêm aí – que a gente já está com a cabeça um pouco cristalizada do que acredita e sente, mas sobretudo para essas gerações que vêm aí – que o destino dessas pessoas não precisa estar pré-determinado a partir do momento que elas nascem e a gente vê se elas são pessoas brancas, pretas, indígenas, amarelas ou pardas.
O destino delas pode ser um destino mais largo do que foi o dos nossos antepassados. O meu já é mais largo do que o do meu tataravô, por exemplo, que fatalmente foi um homem negro; eu não conheço, por óbvio, mas fatalmente foi um homem negro vindo de África. Aqui no Ceará a gente tem a origem do povo negro, principalmente do Congo, dos territórios que hoje nós conhecemos como Congo e Angola. Então, minha família vem daí, de algum lugar daí, mas o caminho que ela percorreu foi uma veredinha, uma estrada bem curtinha que não tinha muito para onde essa pessoa ir. Eu já caminho numa estrada mais larga, porque a educação, a arte, a literatura, o jornalismo me ensinaram tardiamente, mas me ensinaram que eu posso. Eu não preciso ser, pelo fato de ser gay, só um cabeleireiro de periferia.
Eu posso ser um jornalista, eu posso ser um professor universitário, eu posso ser o reitor da UFC daqui a 20 anos. Já pensou? Então, essa construção positiva na minha cabeça não se dá porque eu acordei, tive uma clarividência e compreendi que eu posso tudo naquele que me fortalece. Não é sobre isso.
É eu compreender que existe um contexto aqui ao meu redor, que está o tempo todo – a arte, o cinema, a literatura, as redes sociais – me dizendo que não. O algoritmo do Instagram está me privando de acessar conteúdo sobre pessoas negras. Isso é racismo. Isso me afeta. Isso afeta o meu imaginário. Afeta como eu vou enxergar as pessoas negras.
Então, se eu tenho hoje a possibilidade de ligar a televisão e ver protagonistas negras em todas as novelas da maior rede de televisão deste país, uma das maiores do mundo, como a gente viu muito recentemente na Globo, isso gera outro movimento, outro impacto. Imagine quantas meninas negras, crianças negras, olharam e se viram ali.
A gente viu um movimento muito grande com a Pequena Sereia negra, né? Quantos vídeos a gente viu no Instagram de crianças se enxergando na arte de uma outra pessoa negra, o cinema dizendo para aquela pessoa que era possível ela ser a protagonista de um filme. A vida toda a gente viu que a Ariel era uma mulher branca, ruiva, de pele muito clara.
E, quando a gente apresenta a Ariel como uma mulher negra, as pessoas ficam revoltadas. “Sereia negra não existe”. Querida, sereia não existe, nenhuma, de nenhuma raça. Então, ela pode ser o que ela quiser. Por que ela não pode ser uma sereia negra, para uma criança negra olhar e dizer: “Sou eu ali”?
Ou uma pessoa ligar a televisão, ver a Maju apresentando o Fantástico com um black power, que era uma coisa inimaginável dez anos atrás, e entender que não tem nada de errado com o cabelo dela, que está tudo bem ela sair de casa com o black power. De você ligar o Jornal Nacional, que é o principal jornal do nosso país, e estar lá a Aline Midlej apresentando o Jornal Nacional de trança. Uma coisa que dez anos atrás era improvável.
E hoje em dia nós temos uma mulher negra de trança apresentando o principal telejornal do país. Isso forma imaginário. Jornalismo, arte, literatura são construção de imaginário. O imaginário nasce nas palavras. O racismo também nasce nas palavras. Então, se eu tenho condição de disputar a humanidade a partir das palavras, eu preciso apostar na humanidade, eu não preciso apostar no racismo.
A arte é uma possibilidade de a gente reinventar o mundo e eu acho que é uma possibilidade muito potente de a gente fazer isso, porque ali eu olho e me enxergo. E, quando eu me enxergo, eu digo: “Eu posso escrever um livro”. Como hoje eu entendo que eu posso, mas durante 35 anos me disseram que eu não podia. Porque eu não sabia, por exemplo, que o maior escritor desse país era um homem negro. Ninguém me disse isso.
A vida inteira a gente aprendeu que Machado de Assis era um homem branco. A gente descobriu que Machado era um homem negro cinco anos atrás. Por que me foi negado isso? Por que para você foi negada essa informação? Por que ninguém nunca falou sobre a raça de Machado de Assis? Porque a vida inteira, pela genialidade do que ele escreve, gostem ou não gostem, a gente pensou que ele era um cara branco.
Assim como a gente pensa que são brancas todas as pessoas que apresentam alguma excelência no seu trabalho. Dificilmente a gente vai associar uma pessoa negra a uma excelência de trabalho. A arte me diz que eu posso ser essa excelência. Sabe? Então, eu acho que existe uma capacidade de revolução dentro da produção artística à qual a gente ainda não dá o devido valor, como a gente não dá para quase nada referente à arte, porque a gente também foi ensinado que a arte não tem importância, né?
Mas ela está aí para nos provar que é a partir dessa construção de imaginário que eu vou entender que posso dar o próximo passo na minha vida e que esse próximo passo não precisa ser… mulheres negras não precisam dar o próximo passo rumo ao emprego doméstico, à prostituição, à pobreza. Elas podem dar o próximo passo rumo ao empreendedorismo, rumo ao sucesso, à fama, sem precisarem estar nesse lugar de sexualização, de violência. A arte nos diz isso, o cinema está nos dizendo isso, e ainda bem que mudou.
Porque, como eu disse, foram anos de construção de um imaginário completamente distante disso e que nos violentava o tempo todo, né? Por que eu tenho que ligar a televisão e, todas as vezes, o traficante tem que ser uma pessoa negra? A realidade da favela não é essa. Definitivamente. Muitas operações policiais têm nos provado isso, que o perigo não está na favela, o perigo está em outros lugares. A favela é onde estão pessoas negras, os outros lugares são onde estão pessoas brancas.
Então, isso é a construção de imaginário. O jornalismo está me dizendo isso o tempo todo, né? Agora a gente tem alguns passos a dar ainda nesse sentido. A gente precisa empretecer muitos espaços, mulherizar os espaços, travestilizar os espaços. Quantas travestis pretas tu vê na televisão? Pouquíssimas. Quantas travestis negras fazem parte do nosso ciclo de afetos? Quantas travestis negras tu já levou para almoçar na tua casa? Acho que essas perguntas podem ajudar a gente a entender qual é o imaginário que a gente tem sobre essas pessoas. Porque, se elas não fazem parte do meu dia a dia, tem alguma coisa errada. Porque elas existem, essas pessoas estão aí, né? Uma travesti preta não é uma imaginação minha. Elas estão aí, desde que o mundo é mundo. Por que elas não estão na minha vida? Tem alguma razão em existir.
Isso é imaginário. Se eu passo a imaginar essas pessoas como possíveis no meu dia a dia, a coisa muda de figura, concorda? Então, a arte me permitiria isso.
Vitória:
De que forma os projetos de cultura da UFC podem colaborar para gerar conhecimento, letramento e informação sobre o tema?
Bruno: A UFC, por si só, já tem espaços que são muito ricos para esse tipo de atividade. Quando eu tenho a Casa José de Alencar, por exemplo, oferecendo rodas de capoeira, isso é uma forma de você desconstruir esse imaginário de que aquele espaço é, como foi durante muito tempo, um espaço só de passeio e culinária, gastronomia. Então, é um espaço de produção cultural, tem uma roda de capoeira ali. Tem uma criança que vai ter contato, pela primeira vez, com um traço fortíssimo da cultura brasileira.Essa criança pode, a partir dali, se identificar de uma outra forma racialmente ou pode abrir o conhecimento dela para outras possibilidades. “Olha, se existe a capoeira, então será que existe outra manifestação do povo negro?” E aí entender que existem religiões de matriz afro-brasileira, conhecer o candomblé, conhecer a umbanda, o que são os orixás. “Ah, os orixás são divindades, existe o sincretismo”. Iansã é Santa Bárbara, São Jorge, sabe? É uma janela que se abre, né? As Casas de Cultura, só pelo fato de estarem no Benfica, já colocam a gente diante de uma possibilidade de intersecção de saberes ali imensa.
De você produzir rodas de debate, de você aproximar essas pessoas que estão estudando diversas linguagens, produzindo diversos saberes ali naquele território. Na frente, a gente tem a Economia, o Jornalismo, a Publicidade, a Psicologia, a História. Para cá, a gente tem a Filosofia. Está tudo muito perto, está todo mundo pensando muito parecido no sentido de produzir conhecimento, essa efervescência, né? O ambiente universitário já favorece isso.
Então, você retomar as atividades da Concha, que ficaram paradas durante tanto tempo. Você ter formaturas, colações de grau de verdade, como a gente voltou a ter e, durante muito tempo, a gente não teve, num tempo muito recente a gente não teve. Então, tudo isso é muito importante porque forma imaginário.
Imagine o que é você ser um aluno negro de periferia, filho de empregada doméstica. Você entra na universidade, você se forma e você não tem uma formatura. Você não tem uma colação de grau. Você não tem direito de usar uma beca, como a gente há pouco tempo viveu isso. E que bom que mudou, porque é importante. Esses ritos, principalmente para a população negra, são muito importantes.
O ambiente educacional, os processos educacionais, a história nos prova isso. Os ambientes e os processos educacionais são decisivos para a população negra, para as pessoas negras saírem da condição de vulnerabilidade, de pobreza, de miserabilidade e ascenderem socialmente.
Essas famílias, essas populações podem não sentir os efeitos imediatos disso, porque as pesquisas nos dizem que, infelizmente, só três gerações à frente é que vão sentir as conquistas que eu estou agora vivendo. Os reflexos disso ainda demoram um pouco, porque a gente ainda tem uma estrutura racista que impede que o meu filho imediatamente acesse a minha conquista. Mas é importante, tem que ter.
A gente precisa que a Concha seja ocupada por mais pessoas negras, por mais pessoas dissidentes, por assim dizer. Essa geração mais nova dos estudantes tem identidades muito fortes e muito fluidas ao mesmo tempo, identidades de toda ordem. Racial, de gênero. Isso é muito bom, porque favorece um encontro de ideias e de olhares que faz com que a universidade floresça.
A universidade deixa de ser uma coisa só e passa a ser várias. Então, se você leva isso para dentro da Concha, para dentro dos anfiteatros, para dentro dos centros universitários, você une todas essas pessoas em torno de manifestações culturais diversas, da capoeira da Casa de José de Alencar às orquestras que estão lá tocando na Concha. Tudo isso aproxima as pessoas. Quando a gente combate o racismo, a gente aproxima as pessoas.
Quando a gente derruba as barreiras do preconceito racial, a gente apresenta para essas pessoas a possibilidade de elas serem pessoas, de elas serem felizes, de elas viverem a humanidade delas.
E a universidade é o lugar mais propício para isso acontecer, porque a gente faz isso aliado à coisa que mais nos foi negada durante a vida inteira, que é acessar outros mundos através do que a gente produz, no lugar onde a gente está. Porque a leitura, a produção de conhecimento, o livro, a literatura, a arte é isso: é eu ir para outro canto sem sair de onde eu estou.
Então, a gente precisa, cada vez mais, entender que a universidade não é só pesquisa, não é só sala de aula, não é só o preenchimento da presença, a entrega do trabalho. Isso tudo é muito importante, é essencial para nossa formação enquanto pessoa, enquanto profissional, mas a universidade é muito mais do que isso.
A universidade se dá nos encontros das pessoas, nos corredores, nos jardins, debaixo das sombras das árvores. A universidade é isso e é também esse lugar de encontro nos momentos de produção artística.
Quando a gente tem encontros universitários, quando a gente tem encontros artísticos dentro dos programas e dentro dos cursos feitos por professores individualmente ou de maneira coletiva, você está promovendo encontros de ideias, de vidas, de trajetórias, de sonhos, de esperança. Então, a universidade é esse lugar, precisa ser esse lugar.
Porque, se não for, a gente perde uma parcela importantíssima da nossa sociedade que nos permite mudar, melhorar, ascender socialmente, transformar a sociedade. A universidade é um lugar de transformação.
E eu acho que a arte tem essa veia, essa potência de empurrar a gente com mais força para esse lugar e de a gente se descolar mais desse lugar da hierarquização, de que eu sou melhor do que você, eu sou branco, você é preto, eu sou cis, você é trans.
Eu acho que a universidade tem que ter essa potência de transpor essas barreiras e oferecer as mesmas oportunidades para todas as pessoas, compreendendo os lugares de onde essas pessoas vêm, sabe? E promover a equidade ou a igualdade na medida da desigualdade de cada pessoa. Porque, como eu disse desde o começo, a gente não parte do mesmo canto. Mas isso não impede que a gente se encontre.
Isso não impede que a gente chegue junto para uma formatura, que a gente chegue junto para uma roda de capoeira, porque nesses lugares a gente se iguala. A gente se torna pessoas, humanos. Eu acho que isso facilita muito a formação de uma outra visão de mundo que seja distante desse lugar ao qual a gente está tão habituado, que é o lugar do racismo.
Vitória:
Bruno, muitíssimo obrigada por tudo que você trouxe, todo o seu conhecimento e sua experiência. É muito valioso para a gente escutar você, conhecer toda a sua trajetória, o seu trabalho. Essa entrevista é um convite para a gente pensar não só o letramento racial na vida universitária, mas também práticas antirracistas na universidade. Nós que somos servidores, artistas e estudantes. É sempre importante lembrar que a cultura também é um espaço de reconhecimento e transformação.